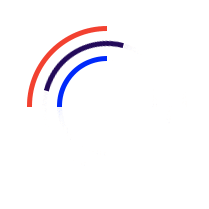Prima facie, forçoso convir que o campo trabalhista é especialmente favorável e fértil, por excelência, para a caracterização dos danos morais, considerando-se a posição de vulnerabilidade que ocupam os trabalhadores dentro de suas relações empregatícias, afinal, muitas são as ocorrências aptas a gerar o dever de indenizar, como os atos discriminatórios, de qualquer natureza, por exemplo.
Anteriormente à reforma trabalhista, promovida pelas Leis no 13.467/2017 e no 13.509/2017, além da Medida Provisória no 808/2017, a Consolidação das Leis do Trabalho tratava apenas indiretamente da defesa dos direitos da personalidade, fazendo uso subsidiário das leis comuns para tanto, conforme as antigas determinações de seu art. 8o, parágrafo único.
Entretanto, com a nova roupagem que lhe fora dada, a CLT passou a contar com um título especificamente destinado a tratar da matéria, refiro-me ao Título II-A: “Do Dano Extrapatrimonial”, composto pelos arts. 223-A a 223-G.
Em síntese, estes dispositivos asseguram expressamente o direito de reparação àqueles que suportarem danos de natureza extrapatrimonial, assim compreendidos os que ofendam a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, tutelando-se a autoestima, integridade, imagem, e por diante.
Feitas estas primeiras considerações, se faz imprescindível, para a correta fixação da matéria, uma análise clínica do art. 223-G, do diploma legal ora em comento, responsável por delinear os aspectos a serem considerados pelo juiz ao apreciar o pedido indenizatório, a saber: a natureza jurídica do bem tutelado (inciso I), a intensidade do sofrimento ou humilhação (inciso II), a possibilidade de superação física ou psicológica (inciso III), os reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão ensejadores do mal (inciso IV), a extensão e duração deste (inciso V), as condições em que se dera (inciso VI), o grau de dolo
ou culpa do agente (inciso VII), a ocorrência de retratação espontânea (inciso VIII), o esforço efetivo para minimizá-lo (inciso IX), o perdão (inciso X), a situação social e econômica dos envolvidos (inciso XI) e, por fim, o grau de publicidade que tomara a ofensa (inciso XII).
Incontroversos estes pontos, o quadro vê-se alterado de figura quanto ao art. 223-G, §1o, da Consolidação em comento. Isto porque o legislador, além de classificar os danos conforme sua natureza - leve, média, grave e gravíssima -, se propôs a estipular os parâmetros mínimos e máximos para fixação do valor da indenização, a ser calculada com base no valor limite dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Esta regra, entretanto, não ganha guarida se a ofensa for decorrente de morte.
A doutrina acusa o dispositivo, em vista disso, de flagrante inconstitucionalidade, “porquanto a fixação do dano moral é tipicamente um julgamento por equidade e com equidade, ou seja, o magistrado deve adotar a técnica de ponderação com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (LEITE, Carlos Henrique Bezerra, 2018, pág. 66).
Corrobora o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 130/DF, que baniu de nosso ordenamento jurídico a possibilidade de vincular-se o agravo a qualquer espécie de tarifação prévia, sob pena de atentar-se contra a ordem constitucional vigente.